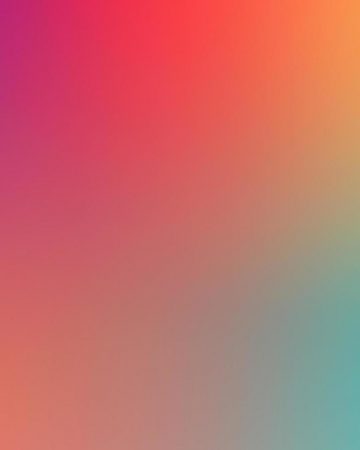Faca, de Salman Rushdie
O mais revoltante sobre o atentado foi que me transformou outra vez em algo que eu tentara evitar com todas as forças. Por mais de trinta anos recusei-me a ser definido pela fatwa e insisti em ser visto como o autor de meus livros — cinco antes da fatwa e dezesseis depois. Quase consegui. Quando os últimos livros foram publicados, as pessoas finalmente pararam de me perguntar sobre o ataque aos Versos satânicos e ao seu autor. E agora cá estou, arrastado de volta ao indesejado assunto. Acho hoje que nunca conseguirei escapar. A despeito do que já tenha escrito ou possa escrever agora, sempre serei o cara que levou as facadas. A faca me define. Travarei uma batalha contra isso, mas desconfio que serei derrotado.
Viver foi minha vitória. Mas o significado que a faca dera à minha vida foi minha derrota.
É difícil pensar uma lista de grandes autores de nossa época que não inclua o nome do indiano Salman Rushdie. Desde sua estreia com Grimus, em 1975, o autor vem conquistando público e crítica com sua prosa irônica, divertida, que flerta com o mágico, seja em confronto com o real, seja como parte dele. Contudo, não é apenas pela publicação de treze romances, um livro de contos e quatro de não ficção, que Salman se notabilizou para fora do meio literário, e, sim, por uma condeção à morte por fatwa emitida pelo aiatolá Khomeini, ao considerar o seu romance Os versos satânicos como blasfêmia. Por décadas o autor viveu escondido e sob proteção, até que mudou de Londres para Nova Iorque, quando aparentemente já não corria risco, e viveu por anos em paz, até a manhã do dia 12 de agosto de 2022.
Em Faca: reflexões sobre um atentado, livro de não ficção, com tradução de Cassio Arantes Leite e José Rubens Siqueira, Salman passa a limpo os dia do atentado e o que se segue a partir dele. O livro funciona como uma virada de página, buscando dimensionar o que lhe aconteceu, sem dar um tamanho aquém ou além do que foi. Nesse sentido, é um relato honesto, objetivo e firme de como o poder da arte supera o poder da ignorância e da intolerância.
Às quinze para as onze do dia 12 de agosto de 2022, uma manhã ensolarada de sexta-feira, no norte do estado de Nova York, fui atacado e quase morto por um jovem com uma faca, logo depois que subi ao palco do anfiteatro de Chautauqua para falar sobre a importância de garantir a segurança dos escritores.
O início de seu relato é quase jornalístico, o autor relata os acontecimentos na sequência matendo um certo descolamento de é ele e não uma personagem no lugar da vítima. De algum modo, não é Salman Rushdie quem está ali, mas o outro Salman Rushdie, blasfemo, ateu, vilão. Uma das primeiras violências do atentado é essa, a de se atacar não quem se é, mas a imagem construída a partir daquilo que se faz ou escreve. O dilema escritor/narrador ganha na vida de Salman o peso de uma espada, ou melhor, de uma faca, apontada em sua direção.
Fazia 33 anos e meio que o aiatolá Ruhollah Khomeini emitira sua notória sentença de morte contra mim e todos os envolvidos na publicação de Os versos satânicos, e confesso que durante esses anos às vezes imaginei que meu assassino se ergueria de um dos muitos fóruns públicos e correria para cima de mim desse jeito. Então a primeira coisa que pensei ao ver seu vulto assassino correndo até mim foi: Então é você. Aí está você. Dizem que as últimas palavras do escritor Henry James foram: “Então chegou afinal, a ilustríssima”. A morte estava chegando para mim também, mas não me pareceu nada ilustre. Pareceu-me anacrônica.
O anacronismo da intolerância, que suprime a falta de liberdade, ou a invoca para cometer crimes que a suficarão, é como um espectro, um fatasma, que ronda e assombra à sociedade contemporânea. Salman parece ter consciência disso, bem como de sua vulnerabilidade, e também nossa, enquanto vítima da violência que desencadeia.
Por que não lutei? Por que não corri? Fiquei ali parado como uma piñata e deixei que me atingisse. Serei tão fraco que não consegui fazer nem a menor tentativa de me defender? Serei tão fatalista a ponto de estar preparado para simplesmente me render ao meu assassino? Por que não agi? Outros, família e amigos, tentaram responder a essa pergunta para mim. “Você tinha 75 anos na época. Ele tinha 24. Você não tinha como lutar com ele.” “É bem provável que você estivesse em choque mesmo antes de ele te alcançar.” “O que você podia fazer? Ele era capaz de correr mais depressa que você e você não estava armado.” E insistentemente: “Onde estava a bendita segurança?”. Não sei mesmo o que pensar ou responder. Há dias em que me sinto embaraçado, envergonhado até, por não ter tentado reagir. Outros dias, digo a mim mesmo para não ser idiota, o que penso eu que poderia ter feito? É só até aí que consegui chegar no entendimento de minha inação: os alvos de violência vivem uma crise de entendimento do real. Crianças a caminho da escola, uma congregação numa sinagoga, compradores num supermercado, um homem num anfiteatro, habitam todos, por assim dizer, uma imagem estável do mundo. Uma escola é um local de educação. Uma sinagoga, um local de culto. Um supermercado, um local de compras. Um palco, um espaço para apresentações. É nessa moldura que nos vemos. A violência espatifa o quadro. De repente, eles não sabem as regras: o que dizer, como se portar, quais escolhas fazer. Não sabem mais a forma das coisas. A realidade se dissolve e é substituída pelo incompreensível.
Rushdie se debruça sobre a violência marcada em seu corpo, na perda de um olho, nas marcas visíveis e invisíveis, em si e em sua família. Se vê vulnerável, humano, envergonhado pela fraqueza de seu corpo nu, fraco, idoso. Diminui-se ante a violência, sente culpa e medo, mais que raiva ou ódio. É quase como estar diante do próprio corpo na mesa de autópsia, passar a limpo suas ações e omissões. Afinal, um jovem que nem era nascido quando a fatwa foi emitida, sem nunca ter lido um de seus livros, sem o conhecer, resolveu pôr em prática uma fé anacrônica e deturpada. O incompreensível ganha rosto, arma-se de faca, escolhe a vítima e, em nome de uma causa maior, veste-se de juiz e de executor.
Sem arte, nossa capacidade de pensar, de enxergar com olhar renovado e de renovar nosso mundo murcharia e morreria. A arte não é um luxo. Reside na essência de nossa humanidade e não pede nenhuma proteção especial, exceto o direito de existir. Ela acata a discussão, a crítica e até a rejeição. Só não acata a violência. E no fim sobrevive àqueles que a oprimem.
A sobriedade com que lida com o atentado e traz novas tonalidades, expandindo-o para fora da esfera subjetiva, faz com que a condição de um homem diga mais sobre todos nós que sobre um único homem. Refazer a vida, apesar do atentado, para além do atentado, é uma declaração de resistência, de independência e, sobretudo, de liberdade. E nada é mais caro e digno que o direito à liberdade, e do poder da literatura, e das artes em geral, de propagar novos mundos, de desestabilizar impérios e cosmovisões arraigadas de violência, arbitrariedade e ódio. Se de um lado eles nos apontam a faca, a arma, o ódio; de outro lhes apontamos a palavra, o verbo, o amor. Rushdie à beira da morte descobre o quanto é amado e quão poderoso isso pode ser.
Um livro necessário, incontronável e urgente.