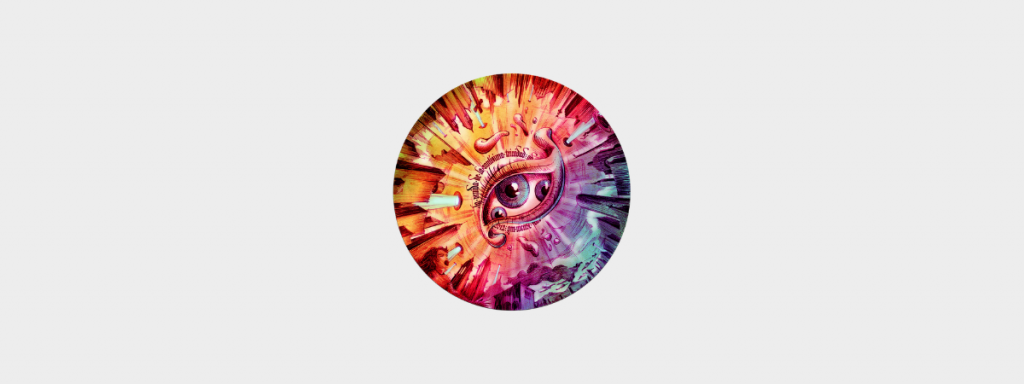
O fim do mundo
Estes dias conversei com uma amiga muito querida. Ela, em Descalvado (SP). Eu, em Madri. Ainda não sei se entre nós há mais oceano ou saudade. O tema da nossa conversa rápida e fugaz (por áudios de whatsapp) foi a minha ida ao Brasil ainda este ano, em dezembro, para lançar um livro de poesia em BH. O meu voo chega via pauliceia desvairada e, por isso, resolvemos tentar um reencontro pelas ruas de Sampa: ela, outra grande amiga (que faz aniversário no dia da minha chegada) e eu – três amantes e pesquisadores/as da literatura. Para falar a verdade, mais amantes que outra coisa.
Embora já afogados em mil agendas de final de ano, temos pensado em como fazer esse encontro acontecer. Estivemos juntos pela última vez em 2017, também nós três, num congresso sobre Literatura Comparada na UERJ, e eu sinceramente tenho um desejo vertical de abraçar as amigas e amigos que estão à deriva do pouco mar que tenho sob a minha jurisdição geocorpórea.
Em meio a uma miríade de estratégias frustradas e entrecortadas por áudios, essa amiga me disse, com tom de quem desiste: “Paulo, dezembro é o fim do mundo!”. Essa frase entrou em mim como a breve dor que precede a morte súbita, fazendo-a parecer eterna. Fiquei calado por alguns instantes, a pensar no que ouvia. Ela tinha razão: dezembro é o fim do mundo. É o tempo em que as pessoas agem como se a vida fosse acabar aqui, como se o final do ano fosse o último portal das oportunidades, o último copo de água, o último prato de algo que não seja arroz com feijão. Tudo em dezembro é erupção.
Sem nenhuma data possível para efetivamente reunir esses três amigos, abandonei a conversa a meio e resolvi sair um pouco pelo centro de Madri. Coincidentemente ou não, as ruas madrileñas – que amo tanto! – estavam insuportáveis, impossíveis, impraticáveis: havia um mar de cabeças e ombros sustentando sacolas, corpos movendo-se na languidez melancólica e dançante das compras, o ir e vir de atenções taciturnas e de olhos hostilizando vitrines, muitas e fortes trombadas entre distraídos, celulares que se soltam das mãos, bolsas que caem com a roupa, a comida, os livros, o dinheiro e as moedas a rolarem pelos mil pés de quem estava plantado a ver as luzes de natal ativadas nessa mesma noite. É dezembro. É o fim do mundo. É o susto coletivo e o medo da morte. É a eterna amnésia dessa carência anual.
Talvez essa amiga com quem falei não poderá estar presente na cidade do meu xará. Chegamos à conclusão de que dezembro impõe obstáculos homéricos a quem tem saudade. Todas as pessoas resolvem sair de casa ao mesmo tempo e o mundo se torna um perfeito caos, palavra na qual ando pensando muito: caos – não se trata da desordem em quantidade, mas sim da consciência de uma desordem normalizada. A cada final de ano eu me lembro disso.
Paulo Geovane e Silva nasceu em 1985, na cidade de Manhuaçu (Minas Gerais). É escritor, editor, tradutor, crítico literário e professor. Licenciou-se em Letras pela PUC Minas (2010). É mestre (2012) e doutorando em literaturas africanas de língua portuguesa pela Universidade de Coimbra. Em 2018 estreou na poesia com “caída” (2018, Editora Letramento) e em 2021 lançou “O homem à espera de si mesmo” (poesia, Editora Mosaico). Escreve esporadicamente para o Le Monde Diplomatique Brasil. Radicou-se em Madrid e, atualmente, edita a Revista Ponte.



