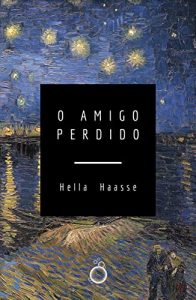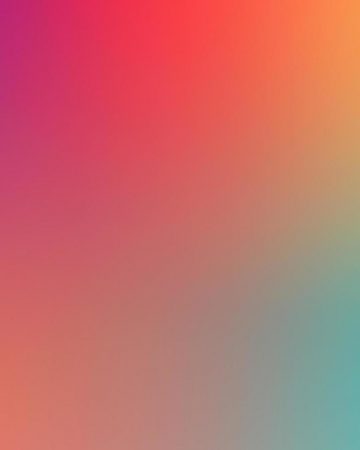O amigo perdido, de Hella Haasse
Urug era meu amigo.
É assim que o narrador anônimo de O amigo perdido, romance da holandesa Hella Haasse, começa o seu relato. De algum ponto de sua vida adulta vai nos apresentando as lembranças de sua infância e adolescência na Indonésia sob domínio holandês.
Quando relembro minha infância e adolescência, sua imagem surge nítida diante de mim, como se a lembrança fosse uma daquelas figuras mágicas que comprávamos, três por dez centavos: amareladas, cartões brilhantes com papel coberto de cola, que devia ser raspado a lápis para que a imagem oculta se revelasse. É assim que Urug aparece quando mergulho no passado.
A partir de uma série de reveses, os garotos vão sendo, de algum modo, condenados a caminharem lado-a-lado, e à medida que crescem o que os divide se sobrepõe ao que os une, culmiando na ruptura anunciada na primeira frase do romance.
A economicidade (pouco mais de 70 páginas, na minha versão digital) e a simplicidade da linguagem podem enganar ao leitor menos atento. Porém, a densidade com que suas personagens são construídas, bem como os olhares incompreendidos pela narrador e que lhe são dirigidos por Urug, escondem algo que vai sendo gestado naquele garoto nativo que anseia por se encaixar. De igual modo, acena a recusa - ainda que tácita - do narrador em percebê-la.
Eu estava bravo e desapontado, pois Urug não tinha sido convidado para comer, especialmente porque eu tinha falado disso para ele, então era natural que estivesse ali. Urug pareceu não se importar. Enquanto comíamos, eu o via no jardim, observando-nos.
Para o garoto, era confuso perceber que houvesse uma real diferença entre ele e Urug, mas a todo tempo ambos eram lembrados disso. Para Urug, uma lição dispensada por toda a vida de que aquele ali não era o seu lugar, e não lhe era bom sonhar com alguma outra vida.
Não havia dúvidas da hostilidade em relação a Urug, que se manifestava mais como uma espécie de indiferença, uma falta de interesse. Suas tentativas de chamar a atenção de uma ou outra maneira não levaram a nada. Acho que Urug parou com tudo aquilo assim que se deu conta. Ele persistiu com a brutalidade e indiferença durante um tempo, mas depois, de repente, caiu num estado reservado no qual nunca o vira, nem mesmo na época de Kebon Jati. Ficou extremamente taciturno, e o olhar sombrio, à espreita, nunca abandonava seus olhos. [...] Nem as roupas, nem o comportamento podiam fazê-lo parecer com o que desejava: ser um de nós.
Na adolescência, a distância entre eles cresce. Os momentos mais ternos e felizes vão ficando no plano das lembranças.
Quanto mais se torna à imagem e semelhança de um adulto, mais incorporam os lugares destinadas a cada naquela estrutura social: o de colonizador e o de colonizado. Urug passa a reconhecer no amigo quem aprendeu a desprezar.
A jornada de amizade é também a de um país em busca de independência, de um povo em busca de justiça, de trasnformações necessárias, mas por vezes forjadas em dor e fúria.
Hella Haasse consegue reonstruir o cenário colonial indonésio sem recorrer a clichês desse tipo de literatura. Não aprofunda a chave opressor e oprimido pela perspectiva da violência, da errupção de torturas e autoritarismo, mas com a sutileza das ações e relações cotidianas.
De modo sagaz, humaniza essa dinâmica de colonização, atraindo olhares para suas personagens, sem descuidar da desconfiança que podemos facilmente aplicar ao relato (por vezes, quase ingênuo) de seu narrador.
O romance original foi lançado na Holanda em fevereiro de 1948, e chega ao Brasil pela Rua do Sabão. A edição conta com tradução e posfácio de Daniel Dago.