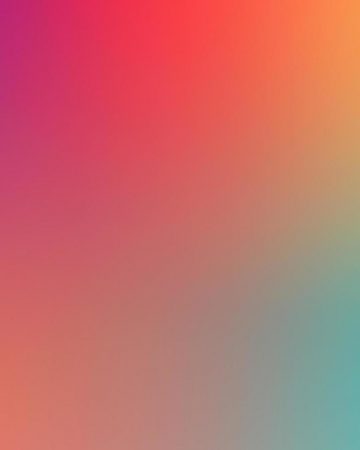Canto eu e a montanha dança, de Irene Solà
A polifonia é um recurso relativamente comum no universo do romance. A contraposição harmônica ou conflituosa de vozes é muitas vezes o eixo responsável pelo dinamismo e mesmo pela imersão que leitores esperam de uma prosa longa. Mas saber disso não impede que sejamos surpreendidos por quem desafie os limites desse recurso. É o que Irene Solà faz com propriedade em Canto eu e a Montanha Dança, recentemente lançado pela Mundaréu. O livro alcança o raro efeito de não parecer lido, mas ouvido, uma história que escutamos quase por acaso porque nos pusemos no meio de algo muito maior do que nós.
O enredo acompanha a família de Domènic, seus vizinhos e a vila em que moram no alto dos Pirineus, na fronteira entre a Catalunha e a França. Mas não há personagens centrais, a não ser, talvez, a cordilheira e a resiliência ao mesmo tempo resoluta e indiferente da natureza que a recobre. E cada elemento desse imenso palco é um narrador potencial, as pedras e as flores, as lebres e os peixes, os vivos e os mortos, as memórias e as lendas, a tudo o que existe ou já existiu sobre a montanha é concedido o direito de expor sua perspectiva, produzindo um relato sedutor e único: conhecemos os Pirineus porque são eles próprios que narram sua história e explicam que nós jamais seríamos capazes de absorvê-la.
Solà oferece um mergulho profundo que é também a constatação embasbacada da infinitude. Cada voz que se ergue traz sensações novas de um mundo que compreendemos menos, vislumbres cuja função é multiplicar a dimensão que temos da nossa ignorância. Os seres vivos narram o terror das tempestades, da neve, da fome, do terror em si, sem o entender mais do que nós, e os elementos inanimados, quando falam, deixam entrever, desinteressadamente, sem a menor pretensão didática, a Guerra Civil Espanhola, a Inquisição Católica e as centenas de corpos que tombaram na cordilheira durante os séculos. No fim desse trajeto resta o alívio, nem para todos palpável, de que não entender é uma forma de pertencimento.
Contrastes e complementos. Ao longo da leitura, a distância entre os pontos de vista tenciona constantemente as impressões e ressignifica os capítulos. O olhar das pessoas captura o presente, mas é por meio dele que apreendemos a passagem do tempo, o que a vila foi, é e nunca será; a dor, o luto e a recuperação possível. Quando a natureza fala, porém, não há passado ou futuro, somente o acúmulo previsível dos ciclos, o que reduz a dolorosa experiência humana a algo entre o ridículo e a irrelevância. Rapidamente se percebe o que há no livro de grito contra o antropocentrismo, mas há também certo elogio da alegria, ainda que absurda e ingênua, da possibilidade de que, contra todos os cálculos, seja viável alguma felicidade, essa coisa tão rara sobre os Pirineus, e que tanto os aproxima, por isso mesmo, do resto do mundo.
Canto eu e a Montanha Dança é uma oração à vida e à morte que não nos permite tomar partido. Nas passagens mais sensíveis, nos flagramos acalentando involuntariamente a convicção da queda; nas mais fúnebres, buscamos apoio em detalhes singelos com o desespero de quem é arrastado por uma correnteza. E acabamos constantemente ansiosos com a leitura, porque podemos destruir o que é belo e sobreviver à injustiça, ou, talvez pior, nos render a uma beleza que durará pouco e ter de lidar com a certeza da efemeridade.
Mas Solà faz isso sem jamais cair no niilismo. Irônica e habilmente, seu recurso narrativo fragmentado enaltece as relações entres os elementos em vez de valorizar os elementos em si. Por isso a tristeza não emerge como resultado óbvio nem como obstáculo para uma satisfação merecida e indulgente, mas como amálgama da experiência humana. Na cordilheira desenhada por Solà, a tristeza constitui, junto com a beleza, a divindade de dois rostos que circunda o percurso pelo qual fluímos, entre decepções e descobertas, entre o susto e o tédio, permitindo chegar mas também partir, e para a qual podemos ou não olhar. E o livro nos convence a olhar. Às vezes, inclusive, com gratidão.
Este texto foi escrito por Júlio César Bernardes: internacionalista, linguista e mestrando em Sociologia.