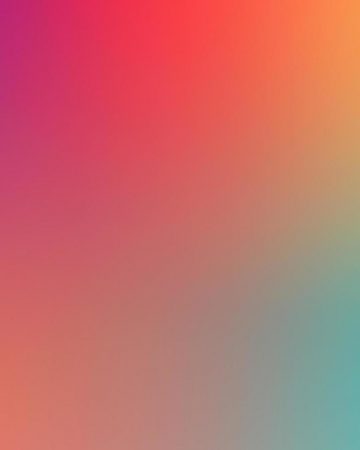Inferno provisório ou uma rapsódia suburbana
Inferno provisório (Companhia das Letras, 2016) voltou e está com novo formato. Publicada inicialmente em livros separados (Mamma, son tanto felice, O mundo inimigo, Vista parcial da noite, O livro das inpossibilidades e Domingos sem Deus), a pentalogia de Luiz Ruffato foi reescrita e ganhou um formato próprio num único volume, recém-lançado.
O livro é ousado do começo ao fim: desde um feminicídio logo na sua abertura, em Uma fábula, até a largada de uma corrida da São Silvestre em Outra fábula, que encerra o volume. Entre as duas, desfilam quatro grupos de livros: O mundo inimigo, Vista parcial da noite, Um céu de Adobe e Domingos sem Deus. Todos tratam do mesmo tema: a realocação de mão de obra do campo para a cidade. Pode parecer cru e cruel escrever “mão de obra” por “pessoas”, mas assim é: a crueza é do livro, que retira todo o glamour possível de sua realidade.
A saga dos italianos de Cataguases, em Minas, que vão buscar uma vida melhor na capital paulista, é apresentada como um mosaico: são dezenas de histórias familiares justapostas, que já começa em O Mundo inimigo. Mas vale ainda considerar a obra como um grande palimpsesto: os anos passam e o jovem Zé Pinto é apagado pelo velho Zé Pinto, para citarmos um exemplo. Mas ela não se faz apenas de modo vertical, com a passagem do tempo, mas horizontalmente: a história de um membro de determinada família se sobrepõe a outra história.
Essas pessoas surgem nomeadas no livro, mas a infinidade de personagens é tão grande que 1) não há uma personagem principal; 2) as histórias do livro se repetem ad infinitum – às vezes provocando confusão de nomes e situações.
Em Cataguases, muitas famílias italianas estão comodamente assentadas na década de 1950: Justi, Chiesa, Spinelli, Bettio, Finetto, Micheletto etc. Os pobres do município alternam serviços de roça com emprego na Manufatora, uma indústria têxtil que faz seus empregados “engolirem algodão”, além de outras pequenas indústrias do ramo. Começa, assim, o deslocamento para São Paulo e uma nova realidade. Mas há sempre os que ficam, e há um vai-e-volta. E o rio Pomba, poluído por agentes químicos industriais, que reivindica vidas humanas.
É interessante notar que a narração em terceira pessoa (na maior parte do livro) começou nos anos 1950, com Juscelino e o projeto ambicioso de Brasília, como se isso fosse nada. A partir daquela prosperidade, no entanto, é que as personagens se movem. Então, uma sucessão de miudezas vai acontecendo, sempre à margem do movimento principal do país, inclusive o regime militar. Ou seja, não há menção a governo e política. Mesmo assim, quando o livro acaba estamos em 2002 – inaugurando um século num ano com a eleição que levará Lula ao primeiro mandato.
Formalmente, o livro tem encantos que fazem o leitor devorar o livro: a escrita de Ruffato é elegante na sua simplicidade (ele narra o livro de forma crua, como se estivesse falando, mas sempre apontando algo no ambiente: uma flor, um perfume, e até listas infindáveis de coisas). A linguagem do autor é um pomar florido: a fruta está prestes a chegar. Enquanto isso, aguardamos lendo várias vezes mais ou menos o mesmo enredo: mudança de endereço, mudança de profissão, casamentos frustrados, crianças incômodas e até indesejadas, trabalho, bebida, trabalho, bebida.
Em Domingos sem Deus, chegamos às últimas histórias: as de Zezé & Dinim, que seguem paralelas nas páginas, no mesmo formato que Ignácio de Loyola Brandão utiliza no Zero. Aliás, é bom nos debruçarmos mais detidamente em Domingos sem Deus.
Ele começa contando de Zé Pinto: agora, praticamente um velho gagá, contrastando com a figura vigorosa que inicia o livro. Ele construiu uma pequena vila – o “Beco do Zé Pinto” em Cataguases, que alugava para inquilinos quase que totalmente desprovidos. Como Sá-Ana, a mãe de santo de Cataguases, aparece repetidamente na narrativa. A decadência de Zé Pinto leva a uma interpretação possível: ao fim do livro, o Pinto “broxa”, o Beco já quase inexiste. Eis aí a decadência que é a vida das pessoas, à parte tantas lajes batidas, tantos filhos na escola, tanto empenho do emprego.
Outra coisa para se avaliar em Domingos sem Deus é a mudança do papel da mulher na sociedade. Até então, ou se é uma senhora de respeito, casada etc., ou uma rameira qualquer. No capítulo com título irônico “Sorte teve a Sandra” há nitidamente um esforço, talvez não muito bem sucedido, para a mulher se emancipar.
Por fim, trazer as histórias de Zezé e Dinim vai do contraste ao grande encontro. Zezé tinha sido praticamente um enjeitado, e Dinim, uma criança mimada. Os papéis se invertem, se trocam, eles se desconhecem para reviver o reconhecimento. Encerrando a quarta parte e fazendo uma corrida vertiginosa pelos anos que o livro retrata, o autor aborda a vida de ambos, que retomam amizade na década de noventa. É um desfile da exuberância econômica do “milagre brasileiro” (a construção da Ponte Rio-Niterói, o tricampeonato brasileiro na Copa de 1970), além da vida madura nas décadas de 1980 e 1990, com protagonistas que envelhecem e se envilecem ainda mais, numa acelerada decadência.
Se comecei a analisar o livro pelo seu último bloco, é para ilustrar justamente a questão do palimpsesto, do mosaico e, finalmente, sua escrita rapsódica. Dar conta de construir uma narrativa em que ninguém é todo o mundo e todo o mundo é ninguém, apenas apoiado num “estilo estimulante”, não é para qualquer autor. A reescrita de Inferno Provisório, que, segundo Ruffato, toma sua versão final, é bastante exitosa. Lembra um pouco a escrita de Macunaíma de Mário, guardados os temas, mas olhando-se carinhosamente para um e outro como uma grande expressão de seu tempo e sua modernidade na linguagem. A teia de gente que respira no Inferno também faz lembrar vagamente Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo. A linguagem do narrador, que poderia ser de qualquer uma das personagens, guarda semelhança com o instrumento que Guimarães criou na nossa literatura. É claro que esses exemplos são limitados, e essas análises são resultado do meu histórico de leitura.
Mas, se formos falar em estilo, é importante notar como Ruffato põem suas personagens a falar a serviço do enredo. É nos bate-papos, nas gritarias, nas discussões que as histórias vão se (des)ajeitando. Essa polifonia desenvolve no leitor a imperiosa necessidade de ter atenção, ao mesmo tempo em que carnavaliza o comportamento social: a história do Professor e seu julgamento em O mundo inimigo, a história de certos afogamentos, uma profusão de crianças e cachorros que latem histericamente observados por urubus que também contam do lugar em pauta.
O estilo é uma prosa poética de primeira grandeza. Diferentes recursos são utilizados, desde o discurso indireto livre, recursos visuais e até versos de poemas:
s
u
b
m
e
r
g
i
u
No terceiro e penúltimo livro (Um céu de Adobe), temos uma estrutura narrativa com começo, meio e fim bem delimitados, como se estivéssemos lendo contos, e cada um deles pudesse tornar-se um romance.
Mas por que “inferno”? Basta ler. A pobreza não é bonita. A violência não é alegre. Ser um daqueles italianos não é fácil, comendo algodão ou fugindo para São Paulo. Agora, “provisório”: algo que tem a ver justamente com a impermanência da nossa vida e do fim dela. A italianada vai morrer, Zé Pinto vai morrer, os heróis do Tri em 1970 também. Mas creio que haja ainda um sentido outro, se é que é possível: o otimismo. Apesar de parecer não afetar a vida das personagens, a euforia dos anos JK no início do livro passa por todo um regime militar, o regime do “milagre econômico” (personagens compram seus fuscas), e caminha para a degradação social, representada por contrabandos, tráfico e outros trambiques. Mas o último parágrafo deixa algo em aberto: e depois de 2002? É algo que a gente ainda está vivendo e não sabe ao certo se vai acabar muito bem...
(Fragmento)
O Boi embrulhou os maços em uma folha de jornal e depositou no fundo de uma pasta de couro preta. O mesmo, com as moedas erigidas em pequenas torres atadas com durex. Dona Lucinha espalhou as peças sobre o balcão de madeira, “É isso”: lenço de cabeça de seda cinza com discretas ramagens multicolores, cueca branca samba-canção, jogo de botão do Botafogo, estojo de maquiagem, fusca movido a corda, montou a soma, “Passou”, e estendeu o resultado ao Boi. A mão gorda conferiu, abonou, “É, um tantinho além do combinado, mas...”
O trenó do Papai Noel deslizando sobre um céu vermelhíssimo abraçou um a um os presentes que Fernando aninhou numa sacola de papel, “Acho que vou indo” “Vai, vai”, disse dona Lucinha, “senão você acaba perdendo a festa...” O menino voltou-se, “Feliz Natal, dona Lucinha! Feliz Natal, seu Boi!”, e arrastou as pernas doces. Subiu a porta de aço até a metade e o bafo do verão impregnou sua camisa de tergal. “Menino! Menino!”, berrou o Boi, deslocando-se até o passeio, “Aqui, uma lembrancinha”. Fernando tomou o pequeno embrulho, agradeceu, enfiou no bolso da calça de brim, destravou o cadeado da Caloi, pendurou a sacola no guidão, montou no selim, empurrou o pedal e afundou no pisca-piscar da noite elétrica de estrelas.
Os pneus solavancaram paralelepípedos afora, luzinhas enfeitando desertas fachadas, lojas, casas, ruas – da Estação, do Comércio, da Cadeia –, ponte Nova, Pracinha, Vila Teresa, Paredão, Beira-Rio, mastigaram a poeira saibrosa da rua da Mina, o aclive vincado de regos desenhados pelas chuvas que denominavam rua das Mangueiras, o silêncio arranhado por cricris, claxe-claxes e a avalanche de latidos e uivos, Paraíso.
Exaurido, Fernando dispôs o quadro da bicicleta no ombro e escalou os degraus que desembocavam no quintal da casa. Na varanda de telhas de amianto assentou o descanso, trancou o cadeado, apanhou a sacola e desafastou devagar a porta da cozinha, que sabia destramelada. A sacola, depositou devagar sobre a mesa, arrastou o conga preto pelo cimento liso esverdeado até o quarto e esbarrou numa cadeira. “Nando?”, a mãe sussurrou, dificultosa, “Nando?” A parca luz desvendou o beliche vazio, “Uai, mãe, cadê o Lilinho”, o Nélson?” “No quarto, comigo”, e a pasta roxa-rósea do rosto deformado da mulher, “De novo, mãe?”
Um brilho azul-alaranjado lançava-se da boca do cachimbo do fogão a gás, espalhando o lume por sobre a toalha de plástico talvez verde e o vermelho vivo dos embrulhos desordenados, “Que isso, Nando?”, apontou, lábios inchados, escadeiras doídas. “Uns trens... Presentes...” Destampou o prato de arroz feijão angu bife ovo que tremulava sobre a vasilha de água fervente, “Ai, coitadinho do meu bem”, a alça da camisola coletando lágrimas. “Fica com raiva não, meu filho... Nervosismo do seu pai... Ralhou com a Norma... comigo... Deve de ter bebido um pouquinho...” “Cadê ele?” “Por aí... Daqui a pouco... Senta, a comida já quentou...” “Quero não, mãe”. (páginas 148/149)