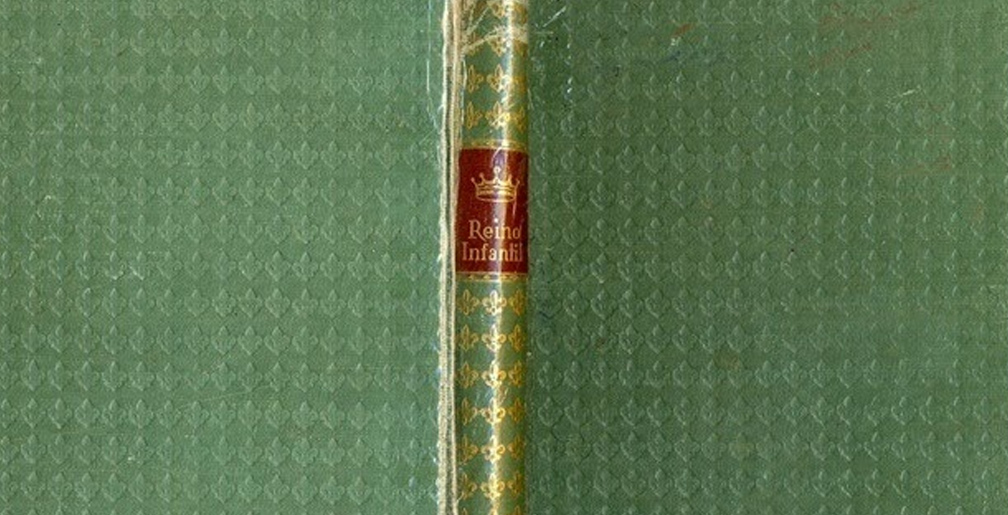Quando eu li Cecília Meireles
Quando a literatura me mordeu
A publicação era de 1978, isso eu conferi décadas depois. O ano do qual eu tinha certeza, era 1979. Eu era uma menina de seis anos, que havia sido alfabetizada pela mãe aos cinco, o que tornava as aulas com meus coleguinhas muito cansativas e cheias de repetição para mim. Falante, desde sempre, e entediada, tentava passar o tempo das aulas conversando com quem estivesse na carteira ao lado, o que logo me rendeu castigos. O primeiro e definitivo deles: fui mandada para a biblioteca.
Lugar vazio e pouco frequentado. Até hoje me lembro, só tinha eu e dona Íris. Ela logo me mandou sentar. Na mesa, havia, espalhados, uns livros.
Na minha casa não tinha livros, nem revistinhas. Tinha papel, caneta e lápis; às vezes, algum pedaço de jornal que embrulhara sardinhas ou um legume. Eu não aprendia a ler para ler literatura, ninguém sabia o que era literatura na minha família; aprendia a ler, nas frases de minha mãe, para um dia arrumar um emprego melhor, para ser um adulto com uma vida melhor que a de meus pais e, sendo curta e grossa: aprendia a ler para tentar sair da miséria. Mas isso eram coisas da cabeça de minha mãe, que hoje sei. Àquela época, eu só sabia da magia de juntar letras e formar sons, de poder pronunciar a mesma coisa que outra pessoa pronunciaria, quando eu visse os mesmos outdoors que ela nas minhas viagens de ônibus; parecia um jogo que eu podia vencer, parecia um jogo que, ao menos, eu podia jogar. Eu ganhava algo grande, isso eu intuía. E era feliz.
Assim, quando cheguei à biblioteca, de castigo, revoltada e odiando minha professora (Tia Rosângela) e dona Íris, toda a minha ira infantil se acabou, começando a vasculhar a mesa. Eram livros coloridos, com desenhos, fininhos. Emociono-me quando me lembro. Debaixo de vários, puxei um: Lúcia-já-vou-indo, de Maria Heloísa Penteado. Comecei a ler. É a história de uma lesma que recebe um convite para uma festa na casa da libélula Chispa-Foguinho, embaixo do pé de maracujá, mas que, sendo lesma, demora-se para tudo, leva uma eternidade para se arrumar, colocar a peruca de cachinhos, o laço alaranjado, colher folhas de alface para comer no trajeto, andar e, quando chega, obviamente, a festa já acabou.
Lembro-me que ficara até o final das aulas, li a mesa inteira, num silêncio absoluto, e os livros se tornaram os melhores brinquedos.
Ao final do horário escolar, Dona Íris fez a brincadeira macabra de que não me deixaria sair. Que eu ficaria de castigo até amanhã. Entrei em pânico e comecei a chorar, pois imaginava minha mãe do lado de fora e eu presa, dentro, e ela sem saber de nada, achando que fugi ou me perdi. Imaginava minha mãe chorando e me desesperei. Larguei os livros e saí correndo até a porta, gritando. Dona Íris segurou-me o braço e eu a mordi com toda força. Ela me liberou com mil impropérios. No dia seguinte, minha mãe estava na diretoria. Em casa, ralhou comigo o resto do dia. Fiquei de suspensão, mas a diretora informara que eu poderia ter uma ficha na biblioteca.
Voltei lá, dias depois, a muito desejo e contra muito medo; medo de que Dona Íris não me deixasse entrar. Ela não tocava no assunto, tampouco se aproximava. A biblioteca continuava o lugar mais vazio da escola e eu fantasiava que ela era minha. Nas estantes, fui escolher o primeiro livro que levaria para casa – e minha casa também conheceria livro. Peguei sem saber, peguei porque achei a capa e o título bonitos, sabe-se lá por que mais peguei:
Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles.
A biblioteca foi o primeiro lugar onde eu tive a sensação de que tinha escolha.
Adriane Garcia (BH/MG), escritora. Tem publicados três livros: Fábulas para adulto perder o sono, Prêmio Paraná de Literatura 2013; O nome do mundo, editora Armazém da Cultura, 2014; Só, com peixes, editora Confraria do Vento, 2015. Publicou nas revistas Germina, Mallarmargens, Diversos Afins, Incomunidade, Vox, Vida Secreta, Cult. Participa no site Escritoras suicidas.