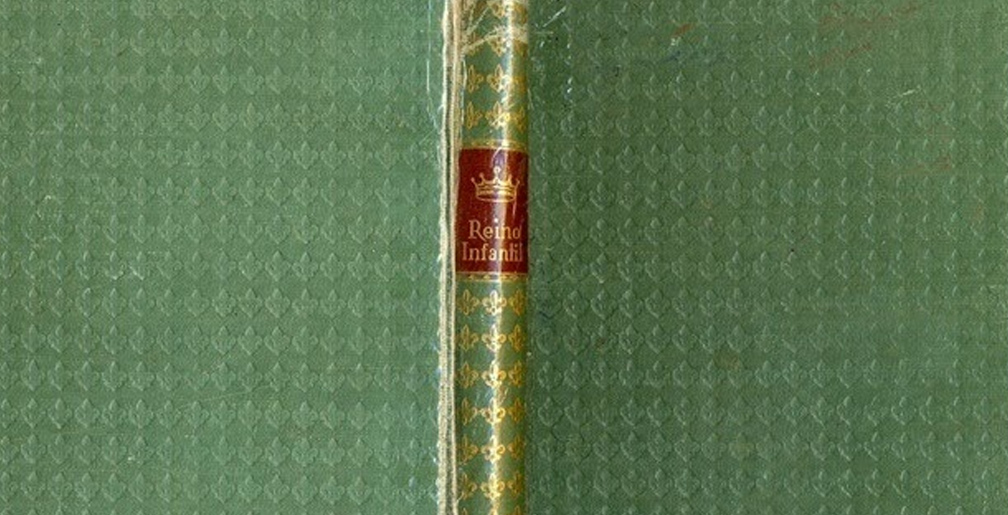QUANDO EU LI ANTÓNIO LOBO ANTUNES
Não tem muito tempo que um amigo me confrontou com uma pergunta que ele próprio tratou de classificar como um disparate – para o bem dele – porque toca num tema muito sensível para um leitor como eu que durante longo tempo de sua vida tem se dedicado à leitura da obra de José Saramago. Este texto, portanto, não era para ser sobre António Lobo Antunes, mas sobre o até então único Prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, a quem elegi não apenas pela obra, mas sobretudo pelo pensamento, como indispensável à formação crítica. Foi a provocação lançada por esse meu amigo que me fez sair da rota comum e ensaiar dizer coisa que valha não sobre António Lobo Antunes, cuja pessoa a mídia tem chamado de o enfant terrible da literatura portuguesa contemporânea, mas sobre sua obra, ainda que, falar sobre a obra pressupõe falar sobre o escritor. Quando faço a ressalva pela obra é porque a mim pouco interessa, ao menos nesse caso, a pessoa física, mas aquilo que essa pessoa produz, ou noutras palavras, para citar Mia Couto, louvemos a obra não quem a escreveu. E antes já gostaria de desmascarar a natureza do enfant terrible atribuída ao escritor, não apenas porque o termo não se ajusta à sua imagem, mas porque tem servido – como o termo gênio e outros afins – de um designativo distorcido de seu sentido original. Aliás, tendenciosamente, a crítica tem se apegado a certos termos e de tanto repeti-los os tem levado a força de sua expressão ao fracasso, o que só tende a reduzir a figura da complexidade a um rótulo qualquer. O mesmo é válido quando se trata de substituir a compreensão sobre a obra de José Saramago apenas como a de um ateu ou o marxista.
Foi a leitura de Os cus de Judas, descoberto ao acaso como tem sido grande parte das boas descobertas que já fiz, que me fez desenvolver interesse pela obra do escritor. Este é um dos seus romances de estreia e duvido muito que alguém não se abale psiquicamente, seja pelo tom verborrágico da narrativa toda ela destilada como se numa aspiração em dizer tudo a um só tempo e já impregnada dos volteios da memória, seja pela força com a qual relato constrói os horrores da guerra colonial em Angola. Como é sabido, até a década de 1970 Portugal manteve colônias em África, por um afã imperialista e pela cobiça de ser a maior das nações – aquilo que sua própria geografia lhe nega –, e durante largo tempo persistiu numa guerra que só levou à ruína os dois lados do conflito. Na cabeça dos portugueses (e em muitas cabeças contemporâneas) o país fazia um favor em terras de povos-macacos. Essa expressão, deve ser pensada aqui destituída de qualquer preconceito ainda que pronunciada por alguém que trazia na forma de expressão toda baba do ódio à raça; ela foi colhida nas muitas conversas que mantive com um combatente da marinha portuguesa dos tempos do conflito colonial que foi meu vizinho de prédio durante certo tempo e a quem gostava de ouvir porque ouvi-lo era como se ouvisse a voz desse narrador antuniano do primeiro romance que li. Os pretos são povos-macacos. Os meus ouvidos doeram, mas ouvi calado, por compreender que relutar com determinadas percepções é perda de tempo. Os cus de Judas, entretanto, revira pelo avesso essa glória imposta pela Ditadura Militar aos que ficavam em Portugal. Em territórios onde a voz é apenas uma e essa mesma voz é constantemente repetida em único tom a tendência é que a população seja levada a acreditar naquilo que é veiculado; diga-se os governos que sempre estão na contramão dos interesses do povo, mas com o poder da mídia conseguem prevalecer e repetir-se no poder.
Conta-se que o livro de António Lobo Antunes causou uma celeuma entre os portugueses; pela primeira vez, ainda que pela ficção, alguém expunha tão claramente o horror sempre acobertado pela ditadura. Ficção, mas, qualquer leitor sabedor de quem era o seu autor nunca tomaria a obra só pela ideia da invencionice ou da mentira. Mesmo sem querer entrar nesse debate entre realidade e ficção – e realidade tomada como expressão de verdade da existência – sabemos que ele é antigo e se impõe principalmente se vem a lume o fenômeno da autobiografia ou se o relato se confunde com a compreensão da figura física que o construiu. De modo que não dá para dizer sê-lo vencido com advento da modernidade, quando alguns dizem sobre um esvaimento de sua força dicotômica. Sou dos que acreditam na impossibilidade de alcançar o real e logo esse sinônimo de verdade, afinal, a pluralidade de percepções sobre um mesmo aspecto da realidade já resume o que quero dizer bem como abre outra constatação, não há realidade sem uma camada de ficção. Isto é, sou dos que compreendem não haver obra literária que não seja marcada pela presença daquilo que se passa fora do texto. Possivelmente, esse diálogo proposto pelo livro de António Lobo Antunes entre o vivido e ficcional terá sido uma das razões que fizeram a obra se comportar como uma maneira de despertar muitas consciências do largo estágio de sonolência a que estavam submetidas durante o Regime. O escritor foi convocado a exercer a medicina nesses territórios tomados pela ganância de mandar e uma vez aí constatou um grave crime que o governo impunha ao seu próprio povo, ao utilizá-lo pela hipnose da construção de uma soberania, como bucha de canhão numa guerra fadada a não ter fim e nem ganhadores. Aliás, eu me pergunto, em qual guerra há ganhadores? Certamente, só o capital que a financia.
Apesar de preso a um contexto e um tempo específico essa é uma das obras que se portam como denúncia do poder e compreensão sobre os horrores das armas e da guerra. A descoberta desse livro, aliás, levou-me a compreender com melhor clareza as diatribes do poder imperial quando colocou as mãos no meu próprio país. Não é isso um ranço contra o passado de dominação e exploração colonial, mas a constatação de um crime cujas sequelas são sentidas até os dias atuais e sobre isso não dá para nem um brasileiro nem um português de bom censo compreender como natural e aceitável porque, mesmo com as limitações de compreensão de mundo do tempo de 1500, não dá para apenas fazer as pazes e dizer que agora está tudo bem, são águas passadas. Tampouco é colocar em pauta certa rivalidade que colocaria brasileiros e portugueses numa relação de valor em que, eu como brasileiro sempre haverei de falar pelo meu povo e um português sempre haverá de falar pelo seu povo colocando-se um e outro sobrepostos. Trata-se de reconhecer a história de um horror. E relembrá-la é útil para conhecer a formação dos dois países e sobre outras formas de colonização impostas desde sempre e quando do advento da globalização – fenômeno, aliás, refletido pelo próprio António Lobo Antunes na literatura mais recente.
Reconhecer a história de um horror. A história da humanidade é a história de um horror. E, me parece que a isso tem se dedicado grande parte da obra deste escritor: primeiro a reconhecer o horror da parte, digamos assim, gloriosa da sua história (reconhecimento sem arrependimento, diga-se, porque também não essa a questão) e a desmistificação de determinados episódios para fazer ruir a grandiosidade deles; depois o horror do próprio poder sobre a gente comum, perscrutado sempre pelo olhar de e sobre uma burguesia decadente, mesquinha, aprisionada em determinados paraísos de falácias, classe social que por vezes cala a voz da gente comum pelo disparate da expressão esquizofrênica e genuinamente de uma consciência já incapaz de conviver nesse mundo novo e repleto de ambivalências, mundo no qual a própria ideia de soberania é já algo que caduca; depois a compreensão sobre o tempo depois do horror – e aqui, não é mais sobre a sociedade portuguesa para onde mira o foco de atenção do escritor; embora claro esteja que é o indivíduo representado dessa nacionalidade, mas é já o encarnado no drama que é a existência desse tempo. O olhar de António Lobo Antunes é sobre uma civilização que há muito deu entrada na unidade de tratamento intensivo, mas desde então não se convence de que vai mal e tampouco tem apresentado sinais de melhora. Se o fim de uma civilização há o levante de outra, isso a obra não precisa. E nem devia; um escritor é apenas um ser que observa e fala sobre o que vê, não é um profeta ou alguém tomado da consciência sobre o além.
Essa compreensão sobre o fim de um tempo se confunde não apenas como tema, mas como estrutura formal de sua obra. Aqui está o que faz do escritor português autor de uma obra única na literatura universal contemporânea. Sua inovação é, talvez, conseguir, depois do romance de 1920 e da obra de nomes como o Vergílio Ferreira, de quem certamente António Lobo Antunes muito bebe sobretudo no processo de construção do romance, é o de estabelecer, em definitivo, a ruptura com qualquer tradicionalismo que ficou designado desde o advento do gênero no século XVIII.
É óbvio que os nomes que o antecedem – os da chamada década do boom da psicologização da narrativa (Proust, Virginia Woolf, Joyce), da fragmentação da obra (Faulkner) ou da sua refabulação (Vergílio Ferreira) – já promoveram tudo aquilo que o romance não conseguira promover até aquela ocasião. Mas, a verdade é que a obra de António Lobo Antunes reafirma essa inovação formal e incorpora, em definitivo, a fusão entre formas textuais diversas de maneira que, ora renova o diálogo com a natureza clássica da narrativa literária, ora se mostra como uma obra única na atual conjuntura da ficção romanesca contemporânea. Desconheço quem melhor tenha alcançado isso, porque o trabalho da escrita antuniana não é apenas uma adoção das técnicas psicanalíticas para a estrutura da narrativa, tal como tem pensado erroneamente parte da crítica. A aniquilação do sujeito é o ideal mais forte na obra do escritor português e não existe nessa compreensão só uma mera constatação, ele torna isso em algo capaz de ser apreendido pela superfície da própria obra, toda ela um exercício que obriga o leitor a uma participação ativa na feitura do texto.
Particularmente, tenho apreço pelas obras que me desafiam, que praticamente me obrigam a um trabalho atento e dedicado de imersão sobre aquilo que narra. De verborragia estamos cheios porque a cada dia são editados um número sem fim de livros medíocres; como leitor gosto de me sentir útil, capaz de resistir ao meu próprio aniquilamento. E a obra de António Lobo Antunes produz em mim esse frenesi. Não é possível lê-lo como mero passatempo na fila de um banco, é verdade. Mesmo a crônica tem um elevado grau de feitura da escrita que nos requer mais que a atenção fugaz. E quando alcançamos romances como Hei-de amar uma pedra, Que farei quando tudo arte, Não entres tão depressa nessa noite escura, Boa tarde às coisas aqui em baixo, Ontem não te vi em Babilónia ou Que cavalos são aqueles que fazem sobre no mar? alguns desses títulos ainda aqui comigo intocáveis, é preciso soltar-se desse tempo de estar atento a tudo, porque, é preciso ter atenção reduplicada para construir uma forma de convivência com a obra.
Sim, a obra de António Lobo Antunes, exige-nos convivência. Nunca harmoniosa, já digo. Não é só a inovação pela inovação o que escritor pratica e não me atrairia se estivesse fadado a ser isso. Atrai-me a maneira com que toca determinados temas caros à comunidade humana afastando-se de qualquer querela política; essa posição não é um apolitismo – acusação sempre formada em torno de sua obra. É a convicção de não querer ser rotulado por um nome específico porque compreende a necessidade de um recomeço; aquilo tudo que criamos como ideologia não nos trouxe nada, nem nos trará. É preciso refazer-se.
Também não há nenhuma moral derradeira que possa ser aprendida e apreendida pelo leitor. Ele usa todo o engenho e toda arte para conferir individualidade à obra e compreender a natureza individual dos sujeitos. Trata-se de um exercício intenso cuja pulsão está impressa na própria estrutura frasal sempre invadida por uma tonalidade poética. A partir desse ponto é possível compreender sua obra – pelo forte apego niilista – como uma estrutura erguida pela ideia fixa que tem ou faz do homem: este está em toda parte, sob as mais diversas formas, sobretudo às mais decaídas, pobres e alheias ao esplendor do mundo. Talvez acredite deles alguma possibilidade de refazer as maneiras de habitar o mundo. António Lobo Antunes tem sempre um drama da alma para materializar em forma de narrativa e através de sua obra sempre é possível concluir que o que nos define é o vazio de um aspecto humano, a saber, aquilo que nos liga a tudo aquilo que está fora de nós. Mais do que qualquer outro romancista, o português alcança compreender a ruptura entre o eu e o mundo e entre o eu e o outro.
Mas, já agora, volto ao motivo que desencadeou toda essa discussão aqui posta, marcada pela relação de implicância relembrada por este meu amigo entre um escritor que elegi como figura primordial para ser o que hoje sou (José Saramago) e outro pelo qual guardo uma admiração crítica sobre a obra e a forma como a tem construído (este sobre o qual busquei desenvolver uma compreensão aqui). Como ele já terá considerado a relação assim posta como um mero disparate, acrescento sê-la uma mera posição vazia construída pela mídia sempre presa na rasa intriga para que lhe valha audiência e sustentada e apregoada pelos leitores ingênuos, aqueles para quem no universo da literatura as relações se explicam como se num ringue de luta. Certa vez, vi isso bem materializado na manchete de uma revista que circulava com a intenção de ser uma revista de cultura – “José Saramago e António Lobo Antunes: o fla-flu dos romancistas”, dizia. Sempre sou temeroso com relações de valor sobretudo num território tão pantanoso como o da arte. Sei que questões de convivência fazem parte da relação de toda e qualquer pessoa. E se existiu quaisquer rusga entre os dois escritores não é mérito de nenhum crítico tornar isso questão principal ou aspecto a ser investigado porque isso pertence à galeria da intriga fácil e urdida pelos tabloides. Se houve indiferenças entre os dois é por uma questão apenas: como humanos todos temos nossas diferenças. O problema é trazê-las à tona para denegrir a obra que os dois construíram ou ainda prender-se apenas nesse histórico para criar uma guerrilha entre grupos de leitores. Se assim, terei o prazer de dizer da decepção que é lidar com um objeto cujo interesse é o da humanização e já agora é mero artefato nas mãos de gente ingênua para construir intriguinhas.
Como leitor, o que me interessa é a obra e atuação do escritor. E na obra ninguém há de questionar que tanto um quanto outro são os últimos autores do entre-século XX-XXI em língua portuguesa; quanto a atuação, um fez da sua posição um instrumento de intervenção cívica e de combate aos horrores impetrados pelo homem contra o homem – os mesmos tratados de uma forma ou de outra nas suas obras; por razões pessoais, António Lobo Antunes tem preferido que apenas sua obra fale. Um escritor também tem o direito de se calar, embora, compreenda que, na atual conjuntura silenciar possa significar certo conivência com o status quo, mas também silenciar poder ser uma forma de protesto, por que não? São duas figuras que, então, têm uma posição diversa de ver e falar sobre o mundo. E as duas posições devem ser respeitadas naquilo que se propõe. Se elejo José Saramago para vida é porque não sou do tipo cala-consente. Mas, se leio António Lobo Antunes não quer dizer que arredei da leitura que me levou inclusive a ler António Lobo Antunes. Sim, se não fosse José Saramago, eu teria ficado na compreensão de que em Portugal só se escreveu literatura até Fernando Pessoa. A um tenho gratidão eterna por descortinar um mundo; a outro por fazer perceber o que não é fazer com a palavra o que alguns escritores assim rotulados têm dado a fazer. O resto são disparates, inclusive essa intriga de enredo chinfrim de novela das oito.
Pedro Fernandes escreve com muita frequência para o Letras in.verso e re.verso, blog do qual é editor. É autor de Retratos para a construção do feminino na prosa de José Saramago (ensaio acadêmico, Editora Appris). Edita também o caderno-revista 7faces, um periódico eletrônico de poesia.