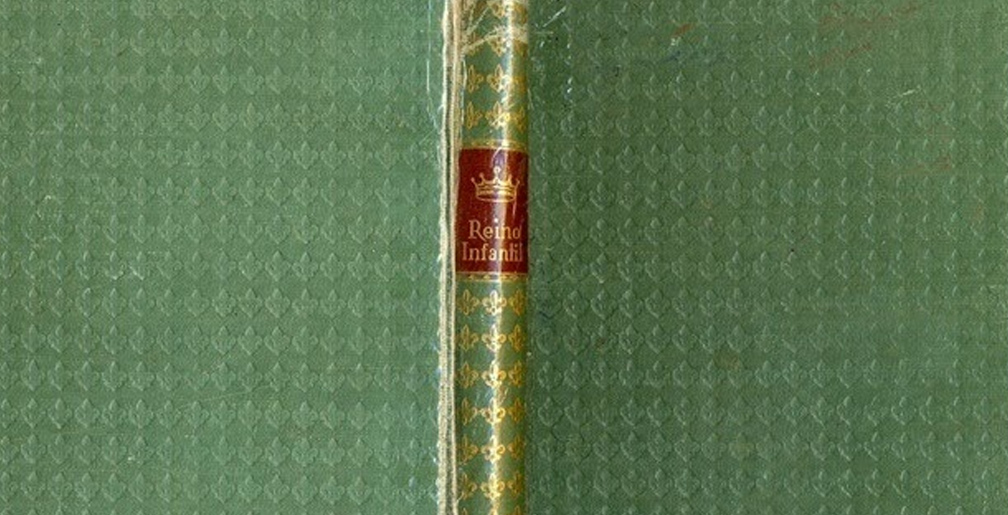Quando eu li, sem ler, pela primeira vez Juan Pablo Villalobos.
Foi em julho de 2013. Eu procurava qualquer coisa para matar o tempo, para que este não me matasse tão já. Fazia, então, um roteiro, quase sacro: recolher os sebos do centro antigo, subir pela consolação a pé e chegar à rua Augusta para terminar de ver o dia ter cabo e não acabar, nunca, de todo.
A busca vaga foi interrompida pelos desmandos do apetite que me fez parar no Sesc Consolação, uma vez que o dinheiro andava, como é costume do dinheiro andar sempre, curto e lá a comida é além de barata, muito boa. Aproveitando que estava por ali, resolvi ver qualquer coisa que estivesse em cartaz, dentre as opções que as sinopses apresentavam (e não apresentavam), achei uma peça que começaria em meia hora, ou mais ou menos que isso, e custava, para mim, R$ 2,50, portanto, nada me impedia de vê-la.
Comi, claro, como devem suspeitar; depois, fui ao andar onde seria o espetáculo para esperar, sentado. Lá chegando, o cartaz na entrada da sala trazia nada mais nada menos que o ator trajado de chapelão mexicano e roupa “característica”. Assim que visualizei o cartaz, que trazia ainda dizeres do tipo, “uma obra poderosa e cruel”, “uma visão macabra sobre a infância”, não eram essas as palavras, mas ficaram sendo na minha memória, tive dois pensamentos, um mais politizado, outro apenas raso de brasileiro que nã0 vê novela mexicana e já não gosta. Começo confessando o segundo, embora ambos tenham sido quase concomitantes, pois é o menos louvável: pensei, “espero que se o texto for a representação de um dramalhão mexicano, que ao menos seja breve”. O primeiro: pensei, “mais uma peça de estereótipo de mexicano segundo a visão de mundo versão cowboy, a saber, a representação do povo mexicano como pessoas que dormem a siesta, trabalham pouco e mal e, que ainda por cima, são feios, conforme podemos observar nos gibis de Spaghetti Western. Não me veio a terceira via possível de pensamento, na época, poderia ser uma espécie de Chaves, o que me agradaria bem mais que as outras duas opções. Em todo o caso, gastaria R$ 2,50 e mataria o tempo.
A peça teve início após o terceiro sinal, e em um cenário muito colorido, entrou Marcos de Andrade, ator que passei a acompanhar e admirar desde então, e que ali no momento era Tochtli e colocava em execução um monólogo forte e visceral que me fez parar de ser (tão) imbecil em menos de 5 minutos. Nas primeiras falas, o menino narrador, personagem principal e filho de um grande traficante mexicano, o homem dos dedos cheios de anéis (Yolcaut), define em uma palavra o que seria o espetáculo e o que é o texto de Festa no Covil: fulminante.
Posso dizer, deste modo, que a primeira vez que li Festa no Covil não foi lendo e sem saber o que era, aconteceu através da representação de Marcos de Andrade, dirigido por Mika Lins; fiquei muito incomodado durante todo o tempo, a narrativa contada pelo garoto leva do riso ao sentimento mais puro de horror em um intervalo curtíssimo de tempo. Embora, devo acrescentar, mesmo quando existia o riso, este, em muitos casos, azedava na boca tendo apenas começado a se formar, vejamos: “Nós não usamos nossos tigres pros suicídios nem pros assassinatos. Quem faz os assassinatos são o Miztli e o Chichilkuali, sempre com orifícios de balas. Os suicídios eu não sei como a gente faz, mas não é com os tigres. Nós usamos os tigres pra comer os cadáveres. E para isso também usamos o nosso leão. Se bem que os usamos principalmente pra olhar, porque são animais fortes e muito harmoniosos que dá gosto de ver. Deve ser por causa da boa alimentação”.
Sai do teatro ainda sob o efeito daquilo que vi e ouvi durante o tempo que durou a encenação, precisando, agora mais do que antes, ir até a rua Augusta, ao bar de nome BH, (a propaganda aqui vai gratuita e não obrigatória), para pensar sobre aquilo tudo e tentar entender melhor a sensação instalada dentro de mim. No caminho, percebi que tinha uma missão muito clara e urgente, buscar saber de onde vinha aquele texto, que quebrou com todas as minhas expectativas, e preconceitos, e arrumar uma maneira de lê-lo em silêncio e com muita atenção. Demorei apenas o tempo de chegar em casa, o que não foi tão logo, para descobrir que o pai do filho (do texto) era na verdade um escritor mexicano contemporâneo, Juan Pablo Villalobos, e que o texto tratava-se do romance de mesmo nome e que já havia outro, espécie de continuação, chamado “Se vivêssemos em um lugar normal”.
No dia seguinte, havia conseguido os dois livros e em pouco tempo, ainda no mesmo dia, já havia terminado de ler Festa no Covil; a sensação da leitura foi tão impactante quanto a da peça, inclusive, passei a ler com a voz e entonação do ator na cabeça. O romance nos faz refletir sobre muitos temas, mas um elemento me marca toda vez que o releio, o riso azedo, um mecanismo muito eficiente que traz o leitor para dentro do problema e o romance para o mundo, social, pessoal, cultural e político, instalando o texto na História. Em resumo, os versos, do cantor e compositor cearense Falcão, que considero muito filosófico em muitos momentos, (quem me convence de que “é melhor cair em contradição do que do oitavo andar” não seja filosofia pura e prática?), explicam muito bem o que senti quando li, quanto ao riso: Supunhetemos que, de repentelho, / o mundo inteiro se descabaçasse, ora, não se ria, minha senhora/ pois sua filha pode estar aqui dentro”. Sinto-me como a senhora, de bem ao que parece, da canção, que ri e logo tem o riso gorado, pois percebe que pode estar implicada na situação.
Festa no Covil é um romance que se lê de muito perto, não é algo que se possa ler de longe e com frieza, é um livro, antes de tudo, para se sentir junto e (des)aprender junto com o menino “precoce” que “[t]eoricamente (...) não devia saber essas coisas” e que mesmo não entendendo completamente o sentido e o significado o que se passa ao seu redor, revela ao leitor o “horror” de uma infância vivida numa bolha, de riqueza, é verdade, em meio a um mundo social e político conflituoso, desigual e injusto, mesmo que apartado dele pelo pai. A dor que dói na barriga de Tochtli, se não dói, deveria, doer também na nossa, provando que não nos acostumamos ainda, de todo, a tudo. No fim, fico sempre perturbado, fulminado e gosto disso, pois prefiro um livro que seja uma pedra no travesseiro que não me deixe dormir quando deito de madrugada, do que outro que pacifique, falsamente, os tormentos normais de todo dia.
Se vivêssemos em um lugar normal revela que a força do escritor Juan Pablo Villalobos não era sorte de principiante, no segundo capítulo da trilogia, que se encerra com Te vendo um perro, ainda sem tradução no Brasil, mas em vias de, pelo qual, inclusive, espero angustiadamente, lemos o outro lado da bolha da riqueza, a história de uma família “pobre” ou quase isso, pois é difícil de determinar “[d]istinguir pobres de gente da classe média podia ser um enigma esotérico; a riqueza, sim, era fácil de diferenciar: comer bolo importado da baixada”, o que revela uma característica social e historicamente situada, tirando o romance do rol, no mínimo suspeito, de obras universais, uma vez que universal é a voz do opressor. Embora seja, sim, um romance mexicano por excelência, por tratar de temas e tocar nos mecanismos de uma sociedade específica, através da forma literária, pode ser muito bem compreendido, em profundidade, por leitores de países onde tais mecanismos também estão presentes em versões locais, como por nós brasileiros. O caso da conversão do morro “Puta Que Pariu” em “Residencial El Olimpo”, além de trazer o mecanismo do riso que mofa na boca, não é tão incompreensível para nossa realidade sócio histórica, vide o filme O som ao redor.
Posso dizer, hoje, que mais do que um escritor incrível e muito bom criador de narradores muito contemporâneos de nosso tempo, encontrei uma espécie de guia para me perder melhor pelos caminhos da vida e da literatura, pois foi também através de sua seção para o blog da Companhia das Letras, que fiquei conhecendo muito de literatura brasileira e de temas muito caros ao México e ao Brasil atualmente, além de aprender que chapelão mexicano, chama-se charro e que tequila é masculino, o tequila; através de seus textos, fiquei conhecendo e apaixonado pela escrita de nomes como Campos de Carvalho e André Sant’anna. Peço perdão a todos os ótimos prosadores brasileiros que escrevem hoje, inclusive aos que, por desleixo e ignorância, não conheço (ainda), mas o escritor que melhor me faz compreender como escrever literatura, reveladora e propositora de problemas, hoje e mais me dá óculos para ver um pouco melhor o mundo ao meu redor é hoje o mexicano Juan Pablo Villalobos, que nos abandonou recentemente, pois vivia em Campinas (SP), para ir viver em Barcelona.
Agora, peço ao leitor, que vá, correndo, ler um de seus romances e me diga ou contradiga.
“Você poderia me fazer este favor?”[1]
[1] Frase final de seu mais recente romance lançado no Brasil, “No estilo de Jalisco”; o romance foi escrito em português, em Campinas, em 2014.