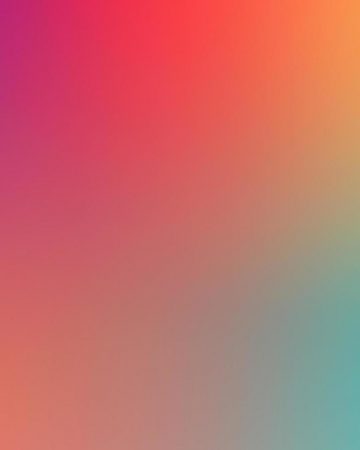Por LiteraturaBr
5 de fevereiro de 2014
Rompendo o silêncio, de Alice Walker
por Raquel da Silva Barros
Meu primeiro “encontro” com a escritora afro-americana Alice Walker aconteceu com a leitura de sua obra-prima, A Cor Púrpura (1982), romance que lhe rendeu um Prêmio Pulitzerde Ficção, sendo a primeira escritora negra a auferi-lo, e a adaptação cinematográfica homônima, dirigida por Steven Spielberg. Os laços que construímos nesse diálogo inicial foram suficientes para que uma amizade surgisse. A partir daí, abracei a missão de difundir sua escrita, que denuncia, principalmente, a discriminação gênero-racial, evidenciando a mulher negra e sua trajetória de luta.
Conhecida por sua atuação militante contra os diversos tipos de opressão, Walker já fez várias viagens nas quais testemunhou o sofrimento de pessoas que tiveram seu cotidiano abalado pela violência humana. Em 2006, ela foi a Ruanda e ao Congo, com a Organização Women for International Women, e em 2009, viajou para a Palestina/Israel com o grupo pacifista CODEPINK. Os relatos dessa dolorosa excursão aos “umbrais dos infernos” são apresentados em um de seus livros mais recentes, Rompendo o Silêncio, publicado no Brasil em 2011 pela Editora Bertrand Brasil.
Tal como Coração das Trevas, de Joseph Conrad, Walker elabora uma espécie de diário de viagem, no qual tenta traduzir em palavras as histórias que escutou e a tristeza nos olhos de quem vivenciou o horror. Através dessa conexão literária, a escritora busca vincular nosso tempo ao do escritor de origem polonesa, mostrando que a discussão sobre questões polêmicas, tais como o genocídio, não está desatualizada. Pelo contrário, ela deve ser reforçada, uma vez que esse assunto costuma “estar fora das lentes da grande mídia e, principalmente, dos governos”, como afirma Walker em entrevista. Com o objetivo de alcançar o maior público possível, a escritora elabora um livro em formato curto e de rápida leitura. Mesmo não escrevendo sobre tudo aquilo que viu, ouviu e sentiu, ela destaca a importância de disseminar as situações de violência e de sofrimento pelo mundo.
Nas primeiras páginas, Walker fala de uma visita feita a uma jovem mulher (trinta e seis anos na época), chamada Generose, que estava em um hospital local. Ela habitava em uma aldeia no Congo que fora aterrorizada pelos membros do Interharmwe (uma das milícias armadas responsáveis pelo genocídio em Ruanda), fazendo com que muitas famílias dormissem na floresta ou se escondessem em seus próprios campos, quando não eram brutalmente assassinadas. Certa noite, estando em casa com os dois filhos e o marido doente, Generose teve sua casa invadida por tais assassinos que exigiam comida. Irritados com a pouca provisão alimentar, eles esquartejaram seu marido e a amarraram junto aos filhos. Depois, cortaram um pedaço de sua perna e fritaram-na. Quando parecia cozida, ofereceram às crianças, obrigando-as a comer a carne da própria mãe. O menino, que se recusou a tal prática, foi morto a tiros, sem nenhuma hesitação. A menina, por sua vez, temendo o mesmo destino do irmão, arriscou morder um pedacinho. Se ela sobreviveu ou não, Generose não pôde afirmar, pois conseguiu se arrastar para longe – e lutar pela vida –, não presenciando os demais acontecimentos daquela noite sangrenta.
Diante dessa história, Walker adoeceu e teve que recorrer ao círculo budista do qual faz parte. Diante dessa história, é impossível não se emocionar e perceber o quanto somos pequenos e impotentes frente à brutalidade e à ignorância humana. Por causa dessa história, já presenciei diversos “Nossa!”, “Que terrível!”, além das várias expressões faciais, que misturam horror e espanto. E é por essa história, por Generose, e por tantas outras famílias vítimas da violência física e psicológica, que a escritora escreve e anseia conscientização.
“O que aconteceu com a humanidade? [...] Porque, o que quer que estivesse acontecendo com a humanidade, estava acontecendo com todos nós.
Não importa se a crueldade está oculta; não importa se os gritos de dor e terror estão distantes. Vivemos em um único mundo. Somos um único povo.”
Constantemente reforçado no livro, a percepção do mundo como o lar de uma única e grande família – a humana –, em que todos têm os mesmos direitos e deveres, independente de raça, cor, religião, é o principal impulsor da escrita e da prática ativista de Walker. Utopia? Talvez. Mas é a crença na mudança que faz com a autora continue testemunhando, escrevendo e denunciando. Assim, ela leva ao mundo a realidade dos locais aonde muitos não podem ir.
Do Congo à Faixa de Gaza, Alice Walker, recuperada do primeiro choque, enfrenta, mais uma vez, a cruel realidade de seus “irmãos”. Antes mesmo de chegar ao destino, sendo mantida na fronteira por cerca de cinco horas, a escritora se vê obrigada a se habituar aos constantes bombardeios.
“Eu nunca havia estado tão perto de bombas sendo lançadas e aproveitei a oportunidade para questionar minha vida. Será que tinha vivido da melhor maneira possível?”
Durante sua estadia nos territórios da Palestina/Israel, ela rememora a situação de opressão racial nos Estados Unidos da América, da qual foi vítima. Sentindo-se em casa, devido ao “sabor de gueto” que a Cidade de Gaza lhe proporcionara, ela vê em cada história, em cada escombro e em cada lágrima derramada, o seu próprio passado. Assim, cria conexões entre as violências atuais e a difícil história de vida do povo negro estadunidense.
“Lembrei-me em voz alta, já que éramos do Sul, da minha raiva diante das humilhações, dos atentados e dos assassinatos que, durante séculos, fizeram do pranto uma atividade sem-fim para os negros, e de como, quando finalmente íamos a um tribunal que deveria oferecer justiça, o juiz nos culpava pelo crime cometido contra nós mesmos, chamando-nos de chimpanzés por estar fazendo estardalhaço.”
Hoje, verdadeiramente, Walker quer fazer “estardalhaço”. Por isso, ela escreve Rompendo o Silêncio com a linguagem “apropriada” para narrar/denunciar as situações desumanas dos países que visitou. Não há camuflagem. O leitor se depara com um texto difícil de ser digerido, porém sincero. Consciente das críticas, a escritora não se permite transformar em um conto-de-fadas a história de homens e mulheres assolados pelas consequências de guerras e de conflitos políticos. Afinal, quando fala da opressão, ela fala pela alma de quem já passou pela “sombra do véu” – metáfora criada por W.E.B. Du Bois para se referir à discriminação que ele viveu desde pequeno.
Rompendo o Silêncio representa, enfim, outro passo dado por Walker em direção à mudança e à conscientização das pessoas. Mais do que um simples diário de viagem, ele é a prova de que somos uma só família; de “que ferir propositadamente qualquer um de nós significa prejudicar a todos nós”. Evidência disso é a mistura de povos, tempos e lugares que a escritora apresenta nessa instigante leitura. Além de proporcionar o acesso a uma realidade, por muitos, desconhecida, em função do poder conservador da mídia, o livro de Walker nos desafia a fazer parte desta marcha, para a qual é preciso ser ousado e destemido.
“Ainda que o horror do que testemunhamos em lugares como Ruanda e Congo e Burma e na Palestina/Israel ameace nossa própria capacidade de falar, nós falaremos. E, como quase todos no planeta agora reconhecem nossa marcha coletiva contra o desastre global, a menos que mudemos profundamente nossos métodos, nós seremos ouvidos.”
O grito de Walker alcançou os meus ouvidos e eu resolvi atendê-lo. Se ela acredita na mudança através de um livro de cento e nove páginas apenas, eu ouso acreditar que um simples texto como esse possa contribuir na adesão de novos leitores e, principalmente, de novos militantes a favor da salvação da humanidade.