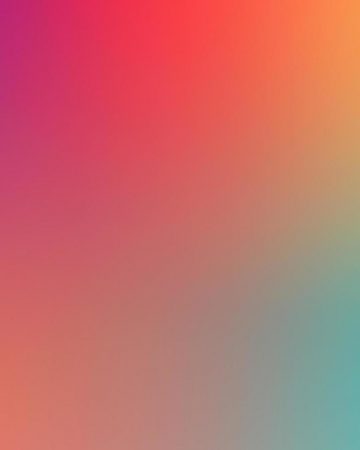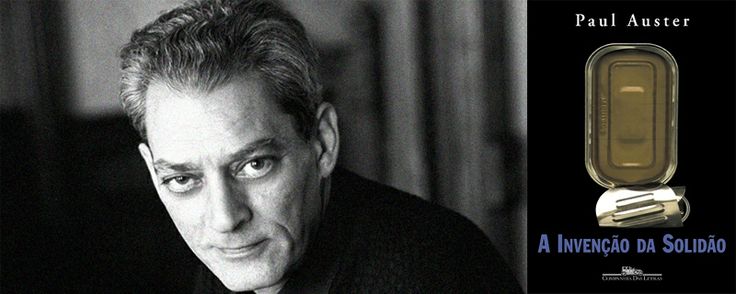
Por Marco Severo
10 de dezembro de 2013
A Invenção da Solidão, de Paul Auster
Há alguns dias, terminei de ler A Invenção da Solidão, do escritor norte-americano Paul Auster.
Sedento por obras suas desde que terminei de ler Invisível, em 2010, e com várias obras suas na fila para serem lidas, acabei por escolher este, por se tratar de temas que me são muito caros: a ideia de família, das perdas, do que é ser pai, a solidão.
O livro de Paul Auster começa com um evento comum: seu pai, depois de um divórcio e de passar 15 anos vivendo sozinho em uma casa imensa, sem nenhum tipo de mazela aparente nem histórico de doenças, morre subitamente. Desde criança, a relação de Paul com o pai nunca foi das melhores. Extremamente ausente, a relação deles dois nunca passou de um sentimento desértico. A maior parte dos sentimentos de ambas as partes permaneceram silenciados, inarticulados, despercebidos.
Tendo sido criado por um pai que parecia incapaz de se importar com o filho, apesar dele fazer todo o possível para mostrar ao pai sua necessidade de ser notado, de ser querido e amado, não seria de admirar que Auster tivesse crescido e virado as costas para este cidadão. Mas ele não o fez, ainda que nada tenha mudado depois que Paul Auster tornou-se adulto. Ele compreendera que a vida do pai era a mais hermética, introspectiva possível. E tentar mergulhar nos sentimentos do pai era como tentar chegar a regiões abissais.
Ao se deparar com a morte inesperada do pai, Paul Auster passou a revisitar os sentimentos complexos que ele tinha em torno da figura de seu pai: o final abrupto da relação acabou por fazê-lo perfazer novamente o caminho de um vínculo frustrado, inexplorado e não desenvolvido. O sentimento o deixou perplexo não apenas pelo choque em si, mas também pela necessidade premente de investigar sua memória em torno do homem que o colocou no mundo, seus sentimentos a respeito da sua vida e da dele e traduzir tudo em palavras.
Não era algo que ele planejava fazer, naturalmente. Mas para o autor, se ele não fizesse rapidamente, tinha medo de que as lembranças esvanecessem e ele não fosse mais capaz de registrar seus sentimentos em relação ao pai, e àquilo mesmo que sentia e nutria por ele. E ele o faz ao narrar as condutas e esquisitices paternas, uma reconstrução, por sinal, feita de esboços mentais e impressões.
 Ao desnovelar parágrafos curtos, Auster remonta sua própria história até chegar à história dos pais de seu pai. O que a princípio parece ser uma justificativa para o pai ser como se tornou depois de adulto, mostra-se ser algo bem maior e mais complexo. É a própria realidade, imiscuindo-se não apenas DNA adentro, mas também no cérebro e no coração. E este é um caminho que, muitas vezes, não tem volta.
Ao desnovelar parágrafos curtos, Auster remonta sua própria história até chegar à história dos pais de seu pai. O que a princípio parece ser uma justificativa para o pai ser como se tornou depois de adulto, mostra-se ser algo bem maior e mais complexo. É a própria realidade, imiscuindo-se não apenas DNA adentro, mas também no cérebro e no coração. E este é um caminho que, muitas vezes, não tem volta.O autor narra um crime que foi cometido na geração anterior a do seu pai, e como isso reverberou entre seu pai e os irmãos dele, como foi escondido pela família, e significa essa descoberta não para a redenção de seu pai, mas para a compreensão de um todo muito maior.
A segunda parte do livro, chamada de "O livro da memória", é bem diferente da primeira. Apesar de se notar uma escrita ambiciosa, vertiginosa, é também quando notamos a tentativa de um distanciamento da primeira parte, inclusive na forma narrativa. Ele decide referir-se a si mesmo na terceira pessoa, numa tentativa de ser mais experimental com a linguagem. E, mesmo tendo me acostumado a isso ao longo da segunda parte do livro, não posso afirmar que a leitura tenha fluído tão bem como na primeira.
O valor do livro reside no fato de Paul Auster fazer uma narrativa emocionada, despojada de amarras, de construir retratos de vidas e relacionamentos através do delicado olhar da percepção. Some-se a isso o fato de que o leitor tem o prazer de se deliciar com as comparações que o autor faz, utilizando-se de Pinóquio, do pintor Vermeer e de tantas outras expressões e obras artísticas.
Assim, enquanto descobrimos os motivos das andanças que Paul Auster fez pela França na juventude, suas descobertas, seus descaminhos, amores, casamento, sua própria exerção da paternidade... Compreendemos o que nos estava sendo dito nas entrelinhas: tudo na vida são apenas caminhos. Nós os percorremos e contamos nossa própria história, mas bem ou mal, sempre virão outros para contá-la, também. E que, quando você escolheu (?) ser escritor nesta vida e, portanto, viver várias vidas, os caminhos serão sempre plurais, múltiplos, e sempre haverá mais histórias a serem contadas do que tempo para fazê-lo. Eis aí a solidão que nos habita. A de sermos tanto e, tantas vezes, sermos sós, uma vez que há coisas durante uma existência para as quais você só resolve consigo mesmo, ainda que o resultado possa ser compartilhado com os outros.
E, inescapavelmente, acaba mesmo sendo.