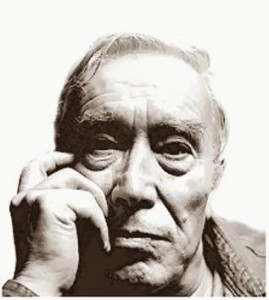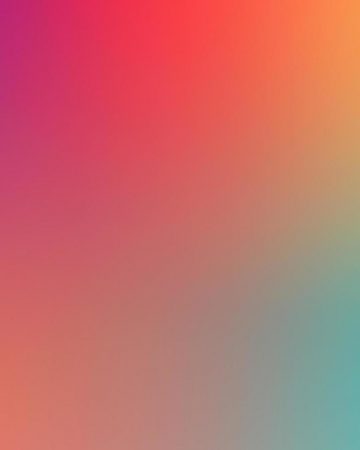Por António Carinha
19 de novembro de 2013
História de liberdades e ansiedades, a que José Cardos Pires deu o nome de ‘O anjo ancorado’
«Num dia de abril de 1957, pela hora da tarde, apareceu em certa aldeola da costa um automóvel aberto, rápido como o pensamento.» É com a referência ao mês e ao ano em que decorre a ação que José Cardoso Pires inicia aquilo a que chamou não «uma fábula social mas simplesmente uma fábula, no sentido em que se trata de uma narração de sucessos inventados para instruir ou divertir (Dic. Morais)».
Esta é uma daquelas obras em que as referências temporais não têm qualquer relevância. Se de outras já foi dito que passaram incólumes os tempos, salientando-se desta forma o seu caráter intemporal e a sua intensidade literária, desta se pode afirmar que as datas nada interessam, independentemente de qualquer análise qualitativa. Quando se diz que nada interessa, entenda-se que nada interessa até novembro de 2013. Um cachimbo que o condutor do automóvel trazia «nos dentes», pode fazer o leitor protestar esta verdade. Isto, se cuidar já não ser moda e preferir colocar outros fumos na boca de quem, atualmente, goza os prazeres de uma vida rica e ao sabor dos ventos e vontades do momento.
(«Que faz você amanhã?»
Para o rigor ser absoluto, há que acrescentar a esta singular lista de marcas possíveis de uma época, o esclarecimento de que determinado garoto não se espantou «grandemente de ver uma senhora de calças e a fumar». O Talbot Lago não entra na lista. Se era carro de luxo, assim continua a ser.
João e Guida conheceram-se em casa de amigos comuns. Chegam à praia de São Romão num Talbot Lago. Por esta altura, «tinham-se visto duas, três vezes, não mais». Recorrendo à analepse, recurso que também usa para descrever as origens de João, José Cardoso Pires introduz o leitor na casa de amigos onde se conheceram, na Parede, «uma vivenda apalaçada, estilo da burguesia republicana, lago no jardim e caramanchão, como as havia antigamente em Algés e ainda hoje há no Gerês e em Sintra, por exemplo.»
João vai fazer pesca submarina. Trouxe espingarda, barbatanas, faca, escafandro e garrafa de ar comprimido. Guida passa-lhe um óleo para o aquecer. Percorre o corpo do homem em diferentes velocidades, ao sabor de palavras e pensamentos. «A mão, adivinhava-se, tinha-se tornado pensativa.»
Entretanto, apareceu por ali o garoto que não se espantou «grandemente de ver uma senhora de calças e a fumar». Aproximou-se com cuidado. Não parara ali para incomodar.
O garoto parara ali, sim, mas por uma razão muito dele: porque trazia um recado importante. Esperto como era, lá resolveu que o melhor que tinha a fazer era pôr-se de largo e só se apresentar quando tudo estivesse em ordem. Calma, portanto.
Depois de alguma insistência, o rapaz consegue algum dinheiro e regressa a casa para que a irmã acabe o trabalho. Durante a tarde, ainda há tempo para que um velho habitante da aldeia persiga um perdigoto, jovem pássaro, frágil, mas que o arrasta até um precipício. O velho evita a queda e ainda consegue apanhar a pequena ave. Já tinha petisco.
Guida paga ao velho para que o pássaro não seja morto. O velho acede ao pedido.
Quando decidem abandonar o local, o garoto ainda não tinha regressado com a renda. O casal não se preocupa. A preocupação está em casa de Ernestina que tenta terminar com rapidez o trabalho. Na taberna, para onde foi o velhote do perdigoto, fala-se do mero apanhado por João e do futuro.
«Se visses o mero que os diabos apanharam.»
O taberneiro está mais interessado no futuro e na clientela. Sonha com eletricidade, telefonias «por causa dos relatos da bola», telefone. O velho não liga os benefícios à vinda de gente.
«Esses banhistas quando vêm para aqui é para estarem à vontade. Interessa-lhes lá o telefone ou a eletricidade ou todas essas coisas que eles têm em casa. Querem é sossego, entendes? Sossego e bons ares.»
Entretanto, o casal começa a descer. Em breve passará pela aldeia. Irão parar? Antes, porém, soltam o perdigoto. Liberdade para o passarinho. Se a vida fosse tão linear como as vontades tão claras quanto alienadas de Guida, não se encontrariam letreiros a informar que «hoje há passarinhos.» A fome não desapareceria, mas a informação da sua existência seria ofuscada pela consciência endinheirada que, repleta de uma urbanidade distraída, observa a pobreza com o mesmo nojo com que se observa a estupidez.
O dia e a história terminam de forma inesperada. O velho regressou ao pinhal e voltou a apanhar o perdigoto.
«Filho da mãe», disse Guida.
Nos últimos parágrafos do texto aparecem, para além do velho e do casal, o garoto da renda, sua irmã, sua mãe, o taberneiro que ansiava por grandes quantidades de banhistas, vizinhos e outras pessoas que apareceram.
Entraram de rompante na aldeia. A meio da rua saltou-lhes o garoto dessa tarde, a acenar com o embrulho da renda. Nem afrouxaram. Da janela, a Ernestina, e da porta, a mãe, ambas viram o pequeno espalmar-se por inteiro contra a parede para não ficar esmagado. De toda a parte correu gente a ampará-lo: